Os 25 Melhores Discos de 2013 (Até Agora)

Em um ano marcado pelo retorno de gigantes – como David Bowie, My Bloody Valentine e Daft Punk -, ou mesmo a estreia de uma nova leva de artistas, não seria uma surpresa que tantos grandes lançamentos dificultassem nossa seleção da lista de melhores do meio do ano. Entretanto, diferente das duas edições anteriores, selecionar 20 bons registros apresentados entre janeiro e junho se transformou em um exercício nada simples, tanto que abrir cinco novas vagas foi quase uma necessidade. Feito isso, listamos 25 obras – sem ordem ou posição aparente – que marcaram 2013 até aqui. São nove registros nacionais e 16 internacionais, passando pelo rock, eletrônica, Hip-Hop, Folk e diferentes ritmos. Um pequeno catálogo para você que passou os últimos seis meses sem ouvir nada, ou que talvez queira relembrar alguns dos grandes discos do ano.
AVISO: O disco que você gosta ficou de fora da lista? Não perca a calma e use os comentários para listar os seus álbuns favoritos, com calma.
AVISO 2: Antes de reclamar que disco X ou Y ficou de fora, dê uma olhada na data do Post (10/06/2013). Quem sabe o álbum que você tanto ama só foi lançado depois da publicação da lista.
.
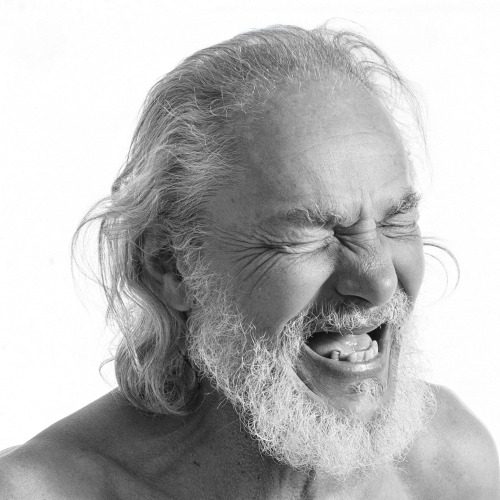
Apanhador Só
Antes que Tu Conte Outra(Independente)
Partindo de um financiamento coletivo, ao entregar os custos do segundo registro para os próprios ouvintes, a gaúcha Apanhador Só não apenas antecipava o que seria uma continuação exata do primeiro álbum, como parecia mergulhar no velho (e desgastado) reaproveitamento de fórmulas da música nacional. A expectativa era de que a banda surgisse confortavelmente instalada nas repetição de ideias testadas em Prédio, Bem-Me-Leve e todo o cardápio agridoce do debut. Um toque de Los Hermanos, uma pitada de samba, alguns acréscimos da poesia gaúcha e pronto: estava lançado o registro. Entretanto, nada poderia ser mais satisfatório do que saber que em Antes Que Tu Conte Outra (Independente), segundo trabalho de estúdio da banda, pouco ou quase nada do primeiro álbum parece ter sobrevivido. Sem prever, a centena de colaboradores que custearam as gravações do novo disco se fazem co-autores de uma das obras mais provocativas do rock nacional – antigo e recente. Sim, o “Los Hermanos” que o público (ou pelo menos parte dele) esperava está de volta, não em música, poesia e instantes de plágio já imaginados, mas em ideia. Da mesma forma que o completo rompimento do quarteto carioca em Bloco do Eu Sozinho (2001), cada instante do novo álbum da Apanhador Só é um balde de água fria e ao mesmo tempo criatividade. Não se trata mais de entregar respostas, consolar por meio dos versos ou fornecer acertos melódicos para o ouvinte, mas de provocar lírica e instrumentalmente. (Resenha)
.

Baths
Obsidian (Anticon)
O tempo trouxe apenas benefícios e maturidade ao trabalho de Will Wiesenfeld. Onde havia luz, o produtor tratou de preencher com trevas, o que era gracioso se transformou em amargura e os encaixes sutis de Cerulean (2010) hoje dão vida ao plano obscuro de Obsidian (Anticon). Segundo registro em estúdio do californiano à frente do Baths, o álbum traz de volta elementos específicos da produção eletrônica da década passada. Uma medida instável de batidas eletrônicas que se fragmentam a todo o instante, sintetizadores derramados em texturas ambientais e vocais que dançam de acordo com a essência ruidosa da obra, tudo enquadrado em um cenário de pleno sofrimento. Trabalhado como uma extensão sombria e praticamente contraditória de tudo o que o produtor testou há três anos, o novo álbum trata de cada camada instrumental dissolvida pelo registro como um habitat para referências tocadas pelas sombras. Nada do que orienta o presente trabalho de Wiesenfeld parece íntimo dos mesmos gracejos solares encontrados em Lovely Bloodflow, ♥, Maximalist e demais composições concentradas no último trabalho. Pelo contrário, da capa soturna aos versos consumidos pela dor, tudo assume uma direção oposta ao que apresentou o produtor. (Resenha)
.

Chance The Rapper
Acid Rap (Independente)
Na contramão do que aprofunda com sobriedade a obra de Kendrick Lamar, além de encarar o R&B de Miguel e Frank Ocean sem as mesmas lamentações, Chance faz da presente Acid Rap (Independente) um trabalho que borbulha criativo nos ouvidos. Conjunto bem estabelecido de composições que passeiam de forma semi-convencional pelo rap, soul ou mesmo pela música pop, o rapper cria no distanciamento de padrões o ambiente exato para a formatação de um trabalho que parece tentado a brincar com a nostalgia. É como se ao encontrar sustento em referências esquecidas de Kanye West (em começo de carreira), ou na própria obra do Outkast, o rapper firmasse um som de propriedades únicas. Como o título e a própria capa do registro logo apontam, a nova mixtape de Chancelor Bennett brinca com faixas de apelo lisérgico e pequenas doses de nonsense. Distante do propósito obscuro de good kid, m.A.A.d city, R.A.P. Music e outros registros de peso que sustentaram a produção no último ano, o trabalho percorre um fluxo colorido, proporcionando no uso melódico das rimas e sons pegajosos um respiro ao que reverbera na música recente. Todavia, ao mesmo tempo em que deixa crescer uma obra que se entrega ao pop sem preconceitos, Chance parece longe dos mesmos exageros de Wiz Khalifa e outros conterrâneos, afinal, o pop que circula pela obra é um mero complemento ou princípio, nunca o todo. (Resenha)
.

Daft Punk
Random Access Memories (Columbia)
“Depois de libertar sua mente sobre o conceito de harmonia e da música estar correta, você pode fazer o que quiser. Então, ninguém me disse o que fazer, e não havia nenhum preconceito sobre o que fazer”. A frase do produtor italiano Giorgio Moroder no interior da música que leva seu nome parece representar com exatidão tudo aquilo que Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo viveram nos últimos 20 anos. Passada a construção do cenário que apresentou o Daft Punk com Homework (1997), o ápice inventivo e o “conceito de harmonia” em Discovery (2001), além do reaproveitamento de ideias em Human After All (2005), o duo francês alcança o quarto registro em estúdio com um simples objetivo: se livrar dos próprios preceitos e experimentar. Talvez estranho em uma primeira audição, Random Access Memories (Columbia) parece desprezar tudo aquilo que a dupla construiu nas últimas duas décadas, retrocedendo de forma nostálgica em um instante que tem início no fim dos anos 1960. Como se em busca de um “recomeço”, a dupla vai de encontro à própria essência, firmando em bases primevas e na relação com veteranos como Nile Rodgers e o próprio Moroder um caminho que inevitavelmente se conecta aos instantes iniciais de Homework. Não se trata mais de fazer música Techno, Dance, House Music ou mesmo o próprio Pop que há tempos acompanha o duo, mas de vistar e compreender melhor a própria origem. (Resenha)
.

Deerhunter
Monomania (4AD)
Monomania é um corte seco na overdose de analgésicos e outras drogas que mergulharam o Deerhunter em Halcyon Digest (2010) há três anos. Obra mais artesanal e consequentemente raivosa do quinteto de Atlanta, Geórgia, o sexto registro em estúdio da banda de Bradford Cox cada vez menos se manifesta como uma obra de mente única. Pelo contrário, trata-se de um registro que explora em cada composição elementos de particularidades isoladas. Acertos estridentes que dançam ao som distorcido das guitarras, bebem de vocais ocultos pelos ruídos e, mais uma vez, fazem do quinteto a banda mais inventiva do rock norte-americano. Nítido ponto de ruptura dentro da trajetória do grupo, Monomania (4AD) flutua em uma medida anárquica entre o Mainstream e o Underground, tratamento revelado no catálogo mais comercial e ainda assim desconcertante do grupo desde a fluidez excêntrica de Microcastles (2008). Compactado em uma medida que posiciona o Shoegaze e o Dream Pop em um plano de fundo, o álbum traz no uso saturado da psicodelia e ruídos voltados ao proto-punk um exercício de clara perversão das ideias posteriores do grupo. Soando como um encontro amargo entre o Sonic Youth (da década de 1980) com o Guided By Voices (no ápice dos anos 1990), o registro atinge em cada composição um exagero que se divide abertamente entre o cênico e a crueza não intencional. (Resenha)
.

Disclosure
Settle (Island)
A nostalgia é parte inevitável no que alimenta o trabalho dos irmãos Guy e Howard Lawrence com o Disclosure. Nascidos no começo da década de 1990, os dois irmãos e parceiros de produção podem não ter vivido a ascendência da cena House – inglesa e norte-americana -, ou talvez fossem muito novos para compreender as maquinações do Garage UK no começo dos anos 2000, porém, tão logo Settle (2013, Island), primeiro registro da dupla tem início, é como se física ou conceitualmente eles estivessem lá. Um curioso efeito de nostalgia não vivenciada que assume efeitos claros, transformando cada instante do delicadamente construído primeiro disco da dupla em um catálogo de sons para os não iniciados. A julgar pela maneira como os samples de vozes se trançam em meio a batidas no decorrer de When a Fire Starts to Burn, logo na abertura do disco, todo um cardápio de essências são apresentadas em doses imoderadas pelo álbum. É como se The Chemical Brothers se encontrasse com Aphex Twin, enquanto Daft Punk compartilha experiências com Burial e Joy Orbinson em uma festa de música pop. Referências talvez desconexas, impróprias dentro do contexto de cada artista, porém cuidadosamente exploradas e encaixadas em um mesmo universo na precisão do registro. Os irmãos Lawrence estão naturalmente inclinados a fazer o ouvinte dançar, não importando os rumos e riscos para que isso aconteça. (Resenha)
.

Dorgas
Dorgas (Vice)
Existe uma medida constante de ironia e genialidade que abastece o trabalho do Dorgas desde os primeiros lançamentos. Entretanto, paralelo aos inventos do grupo cresce uma necessidade ainda maior, capaz de organizar e alinhar estes dois elementos dentro de um propósito único: A transformação. A julgar pelo caminho torto assumido desde a chegada de Verdeja EP (2010), cada novo registro entregue pelo quarteto carioca parece amortecido pelo ensaio lisérgico-experimental que decide os rumos e imperfeições calculadas de cada canção. Um posicionamento sempre excêntrico, que brinca com os sons, versos e até mesmo imagens naquilo que orienta agora toda a construção do recém-lançado primeiro álbum do grupo. Ponto final e ainda início de tudo o que o quarteto – Cassius Augusto (voz e baixo), Eduardo Verdeja (guitarra, baixo), Gabriel Guerra (voz, teclados) e Lucas Freire (bateria, percussão) – vem projetando desde o começo da carreira, o autointitulado disco traz de volta marcas características que alimentaram a banda nos últimos quatro anos – sempre com um toque óbvio de novidade. Do primeiro EP restaram apenas as bases densas de guitarras e os sintetizadores climáticos, trazendo no exercício dos singles Grangongon e Loxhanxha (ambos de 2011) a maior parte dos elementos que parecem reaproveitados pelo álbum. Todavia, a necessidade da banda em perverter a própria identidade é ainda maior, o que acaba sustentando a mutabilidade da obra de nove faixas, fazendo com que o álbum cresça como um tratado que se desfaz e reconstrói em segundos. (Resenha)
.

Foxygen
We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic (Jagjagwar)
Ainda que ínfima perto da grandiosidade e da influência do movimento Hippie, a morte de Scott McKenzie em Agosto do último ano sepultou parte importante do que foi desenvolvido ao longos dos anos 1960 e 1970. Responsável por um dos maiores hinos da produção musical da época, San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) – faixa resgatada e eternizada em 2005 pelo trio austríaco Global DeeJays -, McKenzie sobrevive de maneira criativa mesmo após sua morte. Afinal, difícil passear pelas emanções psicodélicas e caseiras do recém-lançado We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic (Jagjaguwar) sem perceber a essência do compositor (e outros grandes do gênero) dentro de cada faixa. Sequência inspirada do que Jonathan Rado e Sam France do Foxygen vêm construindo desde 2005, o primeiro registro oficial dos parceiros californianos parte exatamente de onde a dupla parou no último ano, aperfeiçoando a lisergia e os ecos sessentistas que banham o EP Take the Kids Off Broadway. Menos esparso que o registro antecessor, o novo álbum condensa em um espaço único de nove composições parte do que caracteriza toda a produção musical lançada há quase cinco décadas. Anos de rebeldia, sonorizações bucólicas e preferências que tendem inevitavelmente aos pilares do amor livre, mas que se apresentam de maneira atual, tanto nos versos, traçando preferências ao amor dos anos 2000, como nos sons, que abandonam o toque repetitivo para se modernizar. (Resenha)
.

Gang do Eletro
Gang do Eletro (Deck Disc)
Verdadeiro liquidificador de tendências regionais e estrangeiras, Gang do Eletro (o disco) em nenhum instante se distancia de quem talvez não esteja acostumado aos sons que há tempos impulsionam o quarteto ou mesmo toda a cultura nortista. Com letras movidas por um nítido descompromisso pop, o álbum parece antecipar aquilo que Diplo e outros produtores devem assumir como “novidade” em alguns anos. São faixas como Vamos De Barco (com um duelo de versos que muito se aproximam do Rap norte-americano) ou mesmo Galera da Laje, faixas que transformam tudo aquilo que M.I.A, Santigold e tantos outros estrangeiros vêm experimentando há tempos em algo criativo, nacional e, claro, sempre dançante. Desprovido do mesmo “compromisso” conceitual que marca o trabalho de Felipe Cordeiro, Amarantos ou mesmo de veteranos a exemplo de Dona Onete, o álbum de estreia da Ganga Do Eletro assume como único propósito a diversão – apenas não confunda com a “diversão” pasteurizada que alimenta a Banda Uó. Distante de parecer um registro banal, o álbum alcança um efeito curioso ao lidar com esse tipo de som: parece fluir como um trabalho tão efetivo e atraente quanto qualquer outro registro de acertos “sérios” ou possível maturidade aprimorada. Assim como as marcas que definem a música paraense, a estreia de Waldo Squash e seus parceiros está longe de se manifestar como um retrato tolo, mas que ainda assim, gruda feito chiclete. (Resenha)
.

James Blake
Overgrown (Polydor)
Primeiramente, Overgrown é um disco deslumbrante e tecnicamente impecável. É curioso notar como cada detalhe, de cada música, está ali por uma razão específica e cumpre perfeitamente a sua função. O uso do silêncio e de ruídos que são quase táteis faz com que as pequenas variações durante cada faixa sejam sentidas mais facilmente. Considerando que Blake poderia ter escolhido um caminho mais fácil, como insistir no post-dubstep, ele avançou e muito. Continuam, é claro, algumas das características principais já ouvidas antes, mas cada detalhe parece estar um nível acima. Até mesmo as letras, que nunca foram dos aspectos mais importantes de sua produção, aqui surgem aperfeiçoadas, intensificando o efeito da cada música. Em sua maioria, bem como acontece no primeiro disco, as faixas são melancólicas, carregadas de uma dramaticidade que mantem firme ao longo do álbum. A elegância e fragilidade característica dos vocais, bem como a utilização de frases que se repetem em loop, são novamente exploradas, complementadas sempre pelas frequências muito graves das linhas de baixo as e batidas criativas que evidenciam o aprimoramento do soul eletrônico de Blake – bem mais eletrônico do que soul agora. Blake apresenta algo diferente a cada faixa. Logo na abertura, Overgrown, uma nota aguda surge ao longe e cresce lentamente ate o refrão, trazendo por fim, elementos que transformam a delicada canção em algo muito mais forte. Fica claro logo no início que o recente álbum será uma viajem bem mais intensa do que foi o primeiro trabalho. Em I Am Sold, por exemplo, apesar da introdução calma, a mudança para uma batida mais dura e a voz ecoada a partir do refrão transportam a música para um ambiente bem mais sombrio e obscuro, resultado estendido em outras canções do disco. (Resenha)
.

Justin Timberlake
The 20/20 Experience (RCA)
Você já parou para pensar no significado do título “The 20/20 Experience”? Para os oftalmologistas, um ser humano normal tem visão funcional quando consegue enxergar objetos a uma distância de 6 metros, medida aqui estabelecida como 6/6 ou 20/20 nos padrões dos Estados Unidos. Logo, o novo álbum de Timberlake não é um trabalho para ouvir, mas música “para ver”, como o próprio já afirmou em outras entrevistas. E basta a memorável apresentação do cantor no Saturday Night Live ou mesmo em outros programas da televisão norte-americana para perceber que o terceiro disco do artista é inteiramente pensado para o espetáculo. Das apresentações ao vivo aos programas de TV, The 20/20 Experience é um álbum que vai além dos fones de ouvido, é algo que você precisa ver. O pop, entretanto, carece de imediatismos, e quem se deixar barrar pela extensão das músicas ou pela proposta “anti-comercial” do disco vai provar de um prato inevitavelmente frio. Timberlake ainda está longe de se ausentar do mesmo som vendável que o acompanha desde o começo da carreira – quando tinha cabelo de miojo e brincava com o pop do N’Sync. Contrariando a maioria dos artistas que vem resgatando o R&B, Justin investe em um trabalho que parece calcular não apenas as dimensões de uma composição de estúdio, mas de cada limite dos palcos. O músico nada mais é do que um fino produto da industria pop (seja ela o cinema ou a música), e sabe como ninguém como se autopromover. Há quem possa afirmar que o trabalho do cantor é “oco” ou “vazio” por apostar nessa temática, mas estes – corrompidos pelo saudosismo e a incapacidade de aceitar o novo – esqueçam que Prince e Michael Jackson só acertaram e hoje são idolatrados pois souberam como vender a própria música. (Resenha)
.

Karol Conká
Batuk Freak (Vice)
Há poucas coisas tão desafiadoras quanto criar uma canção completamente nova em cima de bases pré-gravadas. Para muitos ouvintes, fica a impressão de que o uso de samples se manifesta como um plágio anunciado e em nada proporciona novidade. Uma afirmação injusta. Já conhecida pela musicalidade diversificada de suas canções, a rapper Karol Conká faz da estreia com Batuk Freak (2013, Vice) uma representação particular de toda essa variedade de sons – sejam eles inéditos ou já conhecidos. Do afrobeat tribal de Corre, Corre Erê ao cover do samba de raiz Caxambu (de Almir Guinetto), a curitibana não hesita em se apropriar de todas as referências musicais a que tem direito, concentrando tudo em uma imensa massa sonora que tende à novidade. De natureza instável, o disco usa de cada composição como um exercício constante de adaptação – seja para a rapper ou para o ouvinte. Com faixas que oscilam entre a dureza do rap e a acessibilidade do funk, Conká não se limita à tradição de rimas faladas típicas do gênero, trazendo no canto e em linhas melódicas que lembram o samba e MPB um complemento para a obra. Assim, em uma mesma faixa ela pode desfiar rimas como uma verdadeira rapper e depois arrastar a voz em um refrão grudento, típico da música pop. Em Vô lá, por exemplo, uma das faixas mais ricas da obra, as rimas em estilo mais tradicional vão perdendo gradativamente o espaço para as bases, que ao final se revelam como um delicioso repente nordestino. Colagens em cima de colagem. (Resenha)
.

Kurt Vile
Wakin on a Pretty Daze (Matador)
Kurt Vile parece ter encontrado um ponto de equilíbrio dentro das composições e dos sons que vem desenvolvendo há exatamente uma década. Ancorado em músicas cada vez mais confortáveis, o compositor vem desde 2008, com Constant Hitmaker, solucionando em guitarras simples e vocais pacatos emoções tocadas pelo romântico e pelo doloroso sem jamais abandonar a psicodelia. Um delineamento particular que o músico tratou de aprimorar com cuidado há apenas dois anos, durante a construção de Smoke Ring For My Halo (2011), e finaliza agora com aquela que parece ser, em todos os sentidos, sua maior obra: Wakin on a Pretty Daze (Matador). Quase um contraponto a tudo o que o artista encontrou na ambientação sublime do álbum passado, com o novo disco Vile se entrega aos experimentos e à necessidade de posicionar a própria música em um espaço conceitualmente mais amplo. Enquanto o último disco parecia acomodar o cantor (e o ouvinte) em um cenário tocado pelo hermetismo delicado das canções – efeito manifesto logo nas confissões românticas e caseiras de Baby’s Arms -, ao alcançar o quinto disco solo Kurt busca pela substituição dos temas e pelo aprimoramento de diversas marcas antes comportadas. Seja por meio de pequenas viagens lisérgicas tratadas na instrumentação ou no uso de letras que rompem com a proposta intimista do trabalho passado, a cada passo dado no recente disco, o músico se depara com a transformação. (Resenha)
.

Mikal Cronin
MCII (Marge)
Há dois anos quando Mikal Cronin apresentou ao público o primeiro registro em carreira solo, a cena californiana parecia lentamente esculpida pelo peso do Garage Rock. Parceiro de Ty Segall, Thee Oh Sees e outros artistas de enorme relevância dentro da nova safra norte-americana, Cronin fez do uso quase exaustivo de guitarras ruidosas e vozes caóticas um princípio para um trabalho que parece solucionado em totalidade agora. Intitulado MCII (Merge), o recente projeto não é apenas o resultado de meses de preparação de seu criador, mas o ponto final de aprimoramento do que define boa parte do rock estadunidense atual. Fazendo uso de uma sonoridade totalmente reformulada e em oposição ao que fora testado em 2011, Cronin parte do princípio de que guitarras saturadas de fuzz e batidas rápidas são aproveitados como meros complementos para um trabalho de se sustenta inteiro nas melodias. Contrariando o propósito agressivo que fora testado em músicas como Is It Alright e Slow Down, cada etapa do novo disco possibilita o aprimoramento dos sons e principalmente das vozes. Um tipo de tratamento evidente logo na abertura do álbum, em que as harmonias de piano espalhadas pela ensolarada Weight indicam o novo sustento instrumental do músico. (Resenha)
.
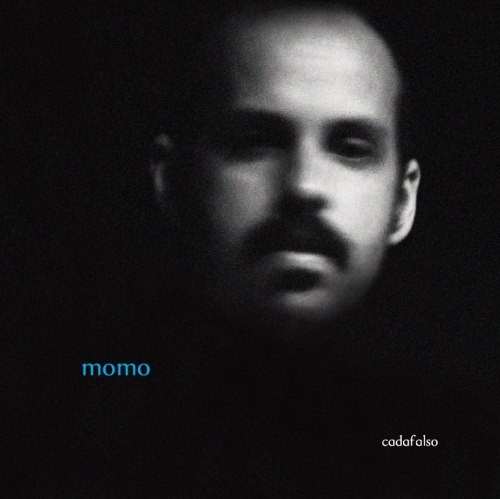
Momo
Cadafalso (Independente)
Marcelo Frota é um desconhecido. Autor de obras que parecem distantes do grande público, o cantor e compositor encontra nesse afastamento a possibilidade de revelar um universo tão rico e confessional quanto o que sustenta o recente Cadafalso (Independente), quarto e mais novo registro carreira do músico sob o título de Momo. Tão sombrio e peculiar quanto os projetos que o antecedem, o novo álbum se afasta do porto seguro firmado em Serenade For a Sailor (2011), deixando de lado a multiplicidade dos sons para mergulhar sem medo na escuridão abusiva e no toque intimista daquela que parece ser a obra mais crua do carioca até aqui. Trilhando um percurso inteiramente coberto pela sombra, Frota traz no minimalismo e na uniformidade tímida de voz e violão um tratamento amargo que se revela logo no título da obra. Palanque para a execução de criminosos à forca, o cadafalso de Momo é composto de apenas nove degraus, todos sustentados na melancolia plena de um passado-presente que se estende desde a estreia do músico com A Estética do Rabisco (2006), e posteriormente foi aprimorada no sofrimento de Buscador (2008). Entretanto, ao alcançar o quarto álbum os percursos são outros. Momo parece finalmente ter aceitado sua condição, tratando de cada faixa como um passo em direção a própria forca que ajudou a preparar nos últimos anos. (Resenha)
.

My Bloody Valentine
M B V (Independente)
Contrário do que alimenta os dois trabalhos anteriores da banda, o novo álbum se orienta dentro de uma proposta instrumental crescente. Enquanto o primeiro bloco de composições – formado pelo quarteto She Found Now, Only Tomorrow, Who Sees You e Is This and Yes – é articulado de forma essencialmente climática, acomodando guitarras e vozes dentro de um mesmo limite instrumental, à medida que o álbum se desenvolve, toda essa multiplicidade de elementos é alinhada de forma grandiosa, quase épica. O ápice dessa manifestação tem início em In Another Way, uma das músicas mais comerciais do trabalho e curiosamente a faixa que mais remete à fase Loveless pela forma melódica como distorção e voz se encontram. Jovial, a canção inaugura o que posteriormente explode na pesada Nothing Is e finalmente invade os ouvidos no encerramento com Wonder 2, faixa que transforma suas ondas de distorção assoladoras em algo que lembra muito com samples de aviões passando pelo céu. A incorporação agressiva dada ao segundo estágio da obra se manifesta como um completo oposto das tendências suavizadas que Shields busca explorar de forma curiosa em Is This And Yes e demais canções na abertura do trabalho. Um dos momentos de maior transformação do disco(e talvez da história da banda), a faixa possibilita ao veterano ser influenciado pela safra recente de artistas embalados pelas mesmas temáticas outrora assinadas individualmente por ele. Em alguma medida, o caráter doce da canção parece se dividir entre a psicodelia obscura do Deerhunter (da fase Halcyon Digest) e as tapeçarias sonoras pensadas pela dupla Beach House ao longo do álbum Teen Dream. Ainda que se aproprie de referências similares, Only Tomorrow incorpora outro lado dessa mesma proposta, substituindo os sintetizadores por ondas distorcidas que se movimentam no mesmo regime de calmaria. Quase uma continuação do que a banda encerrou em idos de 1991. (Resenha)
.

Nevilton
Sacode (Independente)
Nevilton é um respiro. Contraponto festivo dentro do jogo de experiências cada vez mais herméticas, eletrônicas e tomada por exageros clichês que marcam parte da música nacional, principalmente o rock, o músico paranaense e os parceiros de banda provam que é possível brincar com o pop sem desvios ou conceitos tendenciosos. Orientado em essência por versos radiofônicos, bem humorados e carregados por guitarras de formatação simples, o trio de Umuarama, Paraná assume com o lançamento do segundo registro em estúdio a prova de que bastam apenas músicas criativas (e certa dose de intensidade) para que exista o acerto. Entre canções de amor e passeios pelo cotidiano, chega a hora e a vez de Sacode. Da mesma forma que nos trabalhos anteriores, Nevilton e os parceiros Tiago “Lobão” Inforzato e Éder Chapolla se esforçam para não parecer o último sucesso hipster adequado às preferências da moda. Da primeira à última faixa, tudo remete a um tipo de som esquecido. Algo que lembra a descoberta do rock nacional da década de 1980 ou a boa forma do Los Hermanos antes do louvor exagerado que tomou conta de Ventura (2003). Um composto de versos que cairiam bem nas mãos de grupos extintos como Astromato, fariam Nando Reis e os mineiros do Skank morrerem de inveja e até representam o bom humor que Stephen Malkmus construiu com o Pavement na década de 1990. Músicas que lidam com a ironia da vida, sem se entregar ao clima blasé e a depressão imoderada que toma conta de dez em cada onze lançamentos do gênero na música nacional. (Resenha)
.

Passo Torto
Passo Elétrico (YB)
A necessidade em firmar terreno e a busca pela separação dos projetos individuais dos próprios integrantes fez com que a estreia do Passo Torto flutuasse em experimentos. Ambientado de forma inevitável na poesia urbana de Rômulo Fróes, por vezes habitando as crônicas de Rodrigo Campos e até antecipando o que o Metá Metá viria a desenvolver em Metal Metal (2012), o primeiro registro em estúdio do quarteto paulistano trouxe na capa escura a única aproximação entre o composto de ideias, sons e temáticas variadas que abasteciam a banda. Uma leitura moderna da vanguarda paulista em meio a perversões do samba, além de uma forma bruta de romper com o que parecia em voga naquele instante. Curioso que ao apresentar o segundo trabalho da carreira, Passo Elétrico (YB), a banda – composta por Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Romulo Fróes e Marcelo Cabral – parece cada vez mais distante de firmar um limite para a própria obra. Pelo contrário, rivalizando com as direções acertadas há dois anos, cada instante do presente registro se afasta com vontade daquilo que lentamente parecia encarado como fórmula ao final do primeiro álbum. Uma aproximação maior com as individualidades de cada membro (em sua melhor fase) e um caminho tão irregular, que a sensação de novidade e desconfiança se apodera naturalmente de toda nova música espalhada pelo disco. (Resenha)
.

Projota
Muita Luz (Independente)
Desde a estreia com a mixtape Projeção (2010), os trabalhos do paulistano Projota se dividem em dois grupos de faixas abastecidos por sentimentos bem específicos: Medo e esperança. Enquanto o primeiro bloco de canções auxilia na arquitetura de cenários descritivos e que circundam o cotidiano do rapper com desigualdade, racismo, além dos próprios medos, a segunda porção vem como um instrumento de equilíbrio. São músicas que detalham textos de superação, fé e batalhas constantes, como se o MC rimasse para o povo da comunidade de onde veio ao mesmo tempo em que transforma cada verso em um composto que se orienta em uma linguagem universal. Uma ponte que o rapper trilha com segurança e passos ainda mais firmes com a chegada do terceiro registro da carreira, Muita Luz (Independente). Habitante do mesmo cenário dicotômico que contrasta luz e escuridão a cada nova música, Projota estende de forma sóbria a proposta alicerçada no trabalho anterior, Não Há Lugar Melhor No Mundo Que O Nosso Lugar (2011), fazendo do novo disco um exercício apurado de tudo o que construiu previamente. Menos íntimo da sonoridade “comercial” que impulsiona Mais do que Pegadas, Rap do Ônibus e outras faixas importantes do último disco, o rapper faz do presente álbum um transito cinza pelo cotidiano das periferias. Logo, quem esperava por uma aproximação melódica com as mesmas exaltações à MPB de Criolo ou a produção “gringa” de Emicida, encontrará no novo álbum do paulistano um tratado de difícil acesso, mas de recompensa aos que ultrapassam seus limites. (Resenha)
.

Sants
Soundies! (Independente)
A viralização de Harlem Shake do produtor Baauer talvez seja o caminho mais fácil para apresentar ao grande público a nova safra de artistas relacionados ao Hip-Hop/Eletrônica estadunidense. Se por um lado a composição e a série de vídeos parece minimizar a proposta da faixa em um plano totalmente nonsense, por outro lado a canção serve de abertura para indicar o que TNGHT, AraabMuzik, Clams Casino, S-Type e tantos outros produtores vêm desenvolvendo. Mais do que isso, a ampla absorção da faixa de batidas volumosas talvez sirva para reforçar o recente fascínio do público pelo rap nacional e outros artistas imersos no mesmo cenário. Caso do paulistano Diego Santos, o Sants, que sem fugir de uma sonoridade própria, estreita os laços entre o que é produzido aqui e lá fora. Assim como o “Canal Laranja” de Frank Ocean funciona como uma válvula de escape para todos os sonhos e melancolias de seu realizador, Sants utiliza do recente Soundies! (Independente) como um passeio nostálgico por uma infinidade de colagens sonoras e até mesmo visuais. Marcas que acumulam mais de duas décadas de manifestações culturais distintas em um só ponto. “Nickelodeon, Spacejam, Kenan & Kel, Street Fighter, Papa Léguas” são algumas das experiências que flutuam durante a transmissão do canal imaginário comandado pelo produtor, um vislumbre soturno de um jovem adulto que converte partidas de videogame, maratonas de desenhos e experiências banais em música. A mesma incorporação sonora que transformou Steven Ellison (Flying Lotus) e Willian Beavan (Burial) em alguns dos mais influentes produtores da última década, porém adequadas ao cotidiano jovial de Sants. (Resenha)
.

Savages
Silence Yourself (Matador)
Do instante em que Horses (1975) de Patti Smith teve início, passando pelas guitarras de PJ Harvey até alcançar o fecho ruidoso de Fever to Tell (2003) do Yeah Yeah Yeahs, tudo se projeta como um alimento para o ambiente instável criado pelo Savages. São anos de discurso ideológico e confissões femininas que, mesmo marcadas por características específicas, assumem um encaminhamento sombrio assim que o disco tem início. Basta a linha de baixo de Shut Up ou o riff mezzo épico de She Will para que o quarteto inglês perverta décadas de produção musical, resultado que direciona sem pausas um trabalho capaz de romper com o significado do próprio título e que jamais se entrega ao silêncio. Na contramão de outros registros do gênero, entre eles o recente Cerulean Salt da norte-americana Waxahatchee ou mesmo o autointitulado debut de Torres, Silence Yourself (Matador) deixa a essência feminina para manifestar um trabalho de apelo universal. Não há nada que represente a ironia suja testada há duas décadas por Liz Phair no clássico Exile in Guyville (1993), ou mesmo os lamentos alcoólicos que encaminharam Cat Power desde o fim dos anos 1990. Tão logo o álbum tem início, as guitarras e principalmente os versos firmes de Jehnny Beth assumem uma postura decidida. Um reforço amargo e raivoso que em poucos instantes minimiza a virilidade de qualquer álbum “masculino” lançado nos últimos anos. (Resenha)
.

The Knife
Shaking The Habitual (Rabid)
A eletrônica nunca foi encarada de forma convencional pelos irmãos Karin e Olof Dreijer. Desde a estreia da dupla com o autointitulado disco do The Knife, os sintetizadores, batidas, encaixes eletrônicos e principalmente os versos abriram as portas para um cenário marcado pelo instável. Um meio termo particular entre os engenhos de Kate Bush pós-Hounds of Love (1985), toda a vivacidade que tomou conta da carreira de Björk durante a década de 1990, além de traços específicos de sons que parecem habitar apenas as composições do casal. São doses sempre exageradas de reverberações sintéticas, capazes de alimentar registros essenciais como Deep Cuts (2003), a ópera eletrônica Tomorrow, In a Year (2010) e o mais significativo deles, Silent Shout (2006), um dos trabalhos mais importantes da eletrônica dos anos 2000. Uma carreira sempre pensada em cima da desconstrução dos sons em prol da novidade. Não por acaso a expectativa em torno de Shaking the Habitual (Rabid), quarto trabalho da banda, veio de forma natural. Afinal, o que esperar da dupla sueca depois de uma sequência de lançamentos tão assertivos, complexos e comerciais na mesma medida? A resposta parece vir de forma ainda mais natural do que a pergunta, revelando no novo álbum uma sequência (inicialmente) difícil de experimentos e temas tão amplos, que mais uma vez distorcem o universo construído ao longo de uma década pelos irmãos Dreijer. Imenso – são mais de 95 minutos de duração, além de faixas que ultrapassam com tranquilidade os nove minutos -, o recém-lançado álbum rompe com qualquer relação prévia, transformando todas as heranças adquiridas em um mero complemento para um plano de completa reformulação e instabilidade. (Resenha)
.

Vampire Weekend
Modern Vampires Of The City (XL)
Cada vez menos íntimo da herança africana que cobria todo o primeiro álbum, com o novo disco é clara a aproximação do grupo em relação aos sons da década de 1960. A julgar pelos teclados cuidadosamente delineados por Rostam Batmanglij, o álbum se movimenta entre o colorido leve do Beach Boys pós-Pet Sounds (1967) e o baroque pop de Odessey and Oracle (1968), na melhor fase do The Zombies. Um cardápio de referências que atravessam mais de quatro décadas até estacionar logo na abertura do álbum, afinal, o que é Obvious Bicycle se não um puro exemplar das emanações sonoras de Brian Wilson? É somado à isso os épicos controlados de Everlasting Arms e a melancolia de Hannah Hunt, instantes menos comerciais do registro, porém, de extrema relevância para o aprimoramento sonoro do trabalho. Trabalhados em comunhão às letras, os teclados, sintetizadores e órgãos surgem como o principal instrumento da obra. Ao passo de que o primeiro disco era movido pelas guitarras e o segundo por diferentes efeitos de percussão, tão logo Modern Vampires… tem início as harmonias se esparramam com sutileza. Auxiliado pelo cada vez mais requisitado produtor Ariel Rechtshaid, Batmanglij encontra tempo e possibilidade para elevar a presença dos instrumentos pelo registro. Dessa forma, o trabalho se divide constantemente entre a simplicidade e a grandeza dos detalhes, exercício marcado com acerto na construção de Unbelievers, Finger Back e outras faixas mais radiantes do álbum. (Resenha)
.

Waxahatchee
Cerulean Salt (Don Giovanni)
O rock da década de 1990 pode até ser lembrado pela construção de obras icônicas da cena alternativa – entre elas Nevermind do Nirvana, Loveless do My Bloody Valentine ou mesmo OK Computer do Radiohead -, mas é na voz das mulheres e na maneira como as confissões foram abordadas que o panorama musical da época conseguiu se sustentar para além do médio público. Dos versos tragi-cômicos de Liz Phair em Exile in Guyville (1993) aos sons nada polidos de PJ Harvey no ainda hoje sufocante Rid of Me, até o fascínio pop de Alanis Morissette em Jagged Little Pill (1995), a exaltação do espírito feminino banha a produção musical da época de forma decisiva, um contraponto ao descompromisso pop que embalou os anos 1980. Assumindo as mesmas referências de forma quase confessa, a cantora e compositora nova-iorquina Katie Crutchfield faz do segundo álbum solo não apenas um ponto de aproximação com os sons lançados há duas décadas, mas talvez o melhor disco dos anos 1990 apresentado nos dias atuais. Parcialmente oculta sob o curioso pseudônimo de Waxahatchee (uma menção à região de mesmo nome próxima de um lago no Alabama, onde os pais de Crutchfield mantém uma casa), a artista transforma todos os sentimentos (doces e amargos) na matéria-prima que alimenta Cerulean Salt (Don Giovanni). Conjunto de fragmentos (quase) sempre dolorosos, o disco traz nas guitarras e versos da cantora uma das obras mais confessionais dos últimos anos. (Resenhas)
.

Youth Lagoon
Wondrous Bughouse (Fat Possum)
É curioso observar a força que um simples título exerce sobre a totalidade de uma obra. E se estivermos falando de Wondrous Bughouse (Fat Possum), novo trabalho do Youth Lagoon, cada sílaba ou frase parece servir como um direcionamento natural para o que é pensado durante a construção do disco. Com base uma observação fantástica e literal, o disco parece relatar a história da “Maravilhosa Casa dos Insetos”, quase o título de um conto infantil e que possivelmente poderia ser ilustrado pela mesma capa de cores exageradas e traço pueril que apresentam o novo álbum ao público. Entretanto, basta um passeio pelo universo de exaltações melancólicas que Trevor Powers desenrola sutilmente, para perceber que o presente disco nada mais é do que um retrato sombrio do manicômio cotidiano que é a vida adulta. Enquanto o clima matinal e as composições agridoces de The Year of Hibernation (2011) pareciam lentamente acordar o músico de um estágio letárgico, com o presente álbum a compreensão da maturidade e a depressão rompem totalmente com antiga lógica. Por mais encantadoras que sejam as melodias abordadas pela obra (e elas são), cada partícula do registro esbanja uma dor tão profunda, que praticamente afoga tudo o que Powers construiu há dois anos. O amor, a solidão, o abandono, a vida e a morte, tudo serve como assunto para o ambiente desesperador e real que o artista entrega. Um choque que praticamente obriga o músico (e o ouvinte) a abandonar o universo das histórias infantis para tratar sobre a crueza da realidade. (Resenha)
Jornalista, criador do Música Instantânea e integrante do podcast Vamos Falar Sobre Música. Já passou por diferentes publicações de Editora Abril, foi editor de Cultura e Entretenimento no Huffington Post Brasil, colaborou com a Folha de S. Paulo e trabalhou com Brand Experience e Creative Copywriter em marcas como Itaú e QuintoAndar. Pai do Pudim, “ataca de DJ” nas horas vagas e adora ganhar discos de vinil de presente.
Jornalista, criador do Música Instantânea e integrante do podcast Vamos Falar Sobre Música. Já passou por diferentes publicações de Editora Abril, foi editor de Cultura e Entretenimento no Huffington Post Brasil, colaborou com a Folha de S. Paulo e trabalhou com Brand Experience e Creative Copywriter em marcas como Itaú e QuintoAndar. Pai do Pudim, “ataca de DJ” nas horas vagas e adora ganhar discos de vinil de presente.



